publicado em 11/8/2005 no blog Verdes Trigos
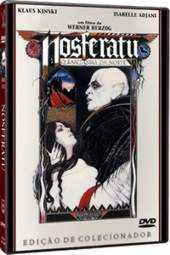
O convívio com livros, revistas, sites especializados e outras tantas fontes, entre elas, naturalmente, o espectador - basta citar que lido com públicos de cinema profissionalmente, no Cinevideoclube do Instituto Moreira Salles de Poços de Caldas, desde 1994 - me fez ver que há um certo número de filmes de terror tidos como clássicos e que este número não se renova com muita facilidade. É quase invariável que se cite "O exorcista" (o primeiro, de William Friedkin), "O bebê de Rosemary" (de Roman Polanski), "O iluminado" (de Stanley Kubrick) e pouco mais, de acordo com as idiossincrasias do interlocutor.
Na verdade, o gênero sempre foi um pouco desprezado pela crítica, porque fazer filmes de terror, repetindo todos aqueles clichês, parece ser muito fácil, e a enxurrada de produções que vai diretamente para as locadoras é de uma ruindade espantosa, em geral mais para cômica. Os grandes filmes acabam se destacando porque, afinal, são quatro ou cinco. Isso talvez se aplique a outros gêneros, mas temos que reconhecer que se ajusta melhor ao gênero terror, que é mesmo propício ao lixo num grau elevado.
No caso dos filmes de vampiro, então, a coisa se tornou, nos últimos anos, quase uma palhaçada - nos anos 80, a série "A hora do espanto" reabilitou a criatura de caninos à mostra na pele de Chris Sarandon, insinuando homossexualidade, meio na brincadeira, e o que já tinha sido caricaturado pelo próprio Polanski em "A dança dos vampiros" nos anos 70 virou piada mesmo.
Não se vê muitos filmes de vampiro hoje em dia, e os que aparecem de vez em quando não seduzem um público muito anestesiado pelo excesso de horror e incredulidade. Passam pelas locadoras, sendo alugados pelo público aficionado, que consome lixo explícito ou produções medianas numa quantidade impressionante, porque há um lado vicioso nisso. Por vezes, esses filmes são deliberadamente procurados para sessões de sado-masoquismo adolescente o mais estúpido. Aí, de fato, a qualidade em nada importa.
Em 1992, Francis Ford Coppola tentou recuperar a história original de Drácula, escrita pelo inglês Bram Stoker, indo à fonte. Seu "Drácula de Bram Stoker" resultou num filme muito bonito, cheio de técnicas admiráveis e cenas de grande poesia, mas, exceto por Gary Oldman no papel principal, prejudicado por canastrões irremediáveis como Keanu Reeves e Winona Ryder nos papéis essenciais do corretor Jonathan e sua esposa Mina.
O melhor, o mais belo de todos filmes de terror, é ainda "Nosferatu - O vampiro da noite", de Werner Herzog, e o público mais refinado (naturalmente, isso não inclui a turminha que assiste "Drácula 3000" com complacência) poderá confirmar isso procurando o DVD com a edição, com ótimos extras - finalmente! - dessa produção, realizada em 1979, e bastante restrita ao circuito dos filmes de arte.
Uma proeza: o perfeito remake
A curiosidade de "Nosferatu - O vampiro da noite" é que talvez seja o remake mais bem feito de toda a história do cinema! Ele refaz com rara felicidade um clássico do cinema mudo, em que poucos ousavam tocar - "Nosferatu", realizado em 1922, por F.W Murnau. Arrisco dizer que é um filme superior à obra-prima do mudo. Porque esse filme de Murnau é uma relíquia de cinemateca, repleto de beleza, mas um tanto datado, reconheçamos, e sempre visto como relíquia, com aquela reverência por vezes opaca que se destina às obras demasiado reconhecidas e Herzog, sem perder o respeito pelo filme de Murnau, o atualizou, o enriqueceu, além de ter conseguido uma coisa que considero proeza das mais elogiáveis: fez um filme sonoro a cores que, na verdade, tem toda a grandeza de um mudo e preto & branco!
O filme prova que a cor e o som podem sim ser usados magnificamente, a serviço da eloqüência da imagem. É o que nos ensinam os melhores filmes, é o que o público sempre esquece - que a arte cinematográfica, nos anos 20, apogeu do mudo, já tinha atingido uma perfeição que, para alguns estetas mais puristas, dispensava o som. E aí Hollywood entrou com "O cantor de jazz" em 1929 e o Cinema, como arte, desandou a tagarelar e andar para trás, tornando-se, como dizia Hitchcock, "fotografia de gente que fala", e até hoje poucos são os filmes verdadeiramente artísticos em termos visuais. A rigor, a grandeza do cinema como arte, incluindo o aspecto sonoro, volta apenas no início dos anos 40, com o "Cidadão Kane", de Orson Welles, que, compreensivelmente, fez uma revolução.
O público espectador de filmes de vampiro, a menos que mais refinado, rejeitou esse "Nosferatu" de Herzog em sua época - o filme ficou mesmo destinado aos que freqüentam as salas de arte. Isso não mudou, ao contrário, piorou, porque a decadência na qualidade do espectador, de alguns anos para cá, é apavorante, e, agora, decididamente, o cinema de arte - ou o que se convencionou chamar assim - é cada vez mais evitado. Pouca gente quer filmes orientais ou europeus, "lentos demais". Foge-se do que parece letargia, porque o vício do cinema de ação, de correria, de apenas dois neurônios, de ritmo americano, explica isso perfeitamente.
Herzog filmou a sua obra-prima com austeridade. Tinha uma outra como base e estrutura, e sabia que ia ser comparado a Murnau, por vezes desfavoravelmente. Mas, teve, de cara, uma vantagem sobre Murnau - pôde usar a história original, de Bram Stoker, escrita em 1897 (a mesma filmada por Coppola, na tentativa de ir às fontes primárias, e refilmada quinhentas mil vezes em porcarias comerciais).
Murnau tivera dificuldades com a família do escritor por direitos autorais e fez seu filme conservando a história, mas mudando os nomes dos personagens. Herzog filmou livremente, usando os nomes a seu arbítrio (Mina, nas mãos dele, virou Lucy). Isso não importa, porque a história foi preservada em sua ossatura.
Presságios rondam o mundo pequeno-burguês
Não há, para o público viciado, o que se espera de um filme de vampiro - os castelos apavorantes, com portões que rangem e criados soturnos que atendem ao visitante incauto que chega, os morcegos, mecânicos ou não, atacando em profusão, e o clássico vampiro - o modelo de Bela Lugosi ou de Christopher Lee via Hammer - aparecendo como um homem mais para sexy, com a capa preta e vermelha. A associação inevitável do vampiro com a sedução erótica acabou por tornar o célebre Conde menos assustador que insinuante, e, como os terrores do mundo real são quinhentas mil vezes mais aterrorizantes, de uns anos para cá, qualquer filme com ele faz pensar que se está diante de um excêntrico, um lunático inofensivo, não de uma ameaça letal.
Herzog entra com sua arte, intensa, mas austera, e o vampiro renasce, de outra maneira. É uma criatura ferida, desolada, solitária, e decididamente, não tem sex-appeal. Seu potencial de morte e melancolia é, no entanto, conservado, com a arte do diretor e de Klaus Kinski.
Esse é um filme sobre a Beleza, que, aliada à Tragédia, visita um lar pequeno-burguês (as análises freudianas do id reprimido do corretor Jonathan Harker e sua mulher Lucy podem dar em mil conclusões, mas serão todas óbvias, e o importante, que é a força das imagens, está lá).
O filme começa plácido, com uma imagem bem caseira, burguesa, de gatos brincando. Isso é apenas para fazer um contraponto com o que virá: nada mais que um transtorno sem tamanho para pôr abaixo toda essa tranqüilidade superficial.
Jonathan (o ator Bruno Ganz, muito convincente em sua cara de homem prosaico, marido domesticado e passivo) vai a seu trabalho de rotina e observa da janela a pequena cidade onde vive com a mulher (Isabelle Adjani, linda como nunca). Herzog filmou na holandesa Schiedam, impossibilitado de filmar em Delft, de que Vermeer pintou uma vista que, para Proust, era o mais belo dos quadros. Os cidadãos de Delft não gostaram nada da idéia de que ele soltaria ratos (ainda que meras cobaias pintadas de cinza) sobre a cidade.
O provincianismo pequeno-burguês é enfatizado. Jonathan conclui que aqueles canais tão típicos da cidadezinha não levam a lugar nenhum... Mas seu tédio vai durar pouco, porque um tabelião (vivido com risadinhas nervosas por Roland Topor) vai lhe pedir para ir aos montes Cárpatos, onde um certo aristocrata, ansioso por adquirir uma casa na cidade, quer sem demora efetuar a transação. É longe, mas o homem, além de excêntrico, é rico, e o negócio pode fazer com que Jonathan compre, enfim, uma casa melhor para ele e sua mulher.
Vai, mas antes ela quererá um passeio na praia. A fotografia aí se prova o prodígio que Herzog precisava - mergulhamos em gradações de branco e cinza na praia menos "tropical" e luxuriante que se possa imaginar. Por vezes, a fotografia elegerá o branco e essas gradações como que para se contagiar do preto & branco do filme original com mais veemência. Em todo caso, predominarão sempre os tons esmaecidos, que, subitamente entrando em contraste com cores mais quentes, produzirão efeito devastador. E não haverá - isso é ainda melhor - nenhum abuso de vermelho e sangue.
Os Cárpatos e a escuridão
Sob a imponência sinistra da música do grupo alemão Popol Vuh, vamos para os Cárpatos, com Jonathan, a galope. Os Cárpatos já são citados numa parábola enigmática a que Kaspar Hauser se refere no final de "O enigma de Kaspar Hauser", de 1975, do próprio Herzog.
Em algum lugar, o diretor disse uma vez que queria mostrar, na tela, uma árvore como uma coisa assustadora. Essa capacidade estranha, de deixar que o natural se imponha de maneira lenta, e com um impacto ímpar, em seus filmes, ele a tem, e ninguém pode negar. Dessa vez, temos que olhar para as montanhas pelos olhos dele, e nos assustamos. Elas são o que montanhas, vistas com sensibilidade visionária, são - excessos, coisas da Natureza que nos intimidam, como possuidoras de uma identidade precisa e ameaçadora. Possuem segredos inumanos - como não possuiriam? - e que somos nós senão esse minúsculo Jonathan que galopa em direção ao coração devorador de pedra, abismo e escuro? Herzog captará aquele exato momento em que o dia luta com a chegada da noite, no alto, dramaticamente, em nuvens ligeiras, hiperbolizadas pela música do Popol Vuh.
E chegará ao castelo de Nosferatu depois de muito alertado pelos proprietários de uma taverna e pelos ciganos que encontrara numa aldeia. É curioso, porque é uma cena óbvia, inevitável, essa - o sujeito diz que vai visitar o castelo do monstro e um silêncio se faz na taverna, porque pronunciou o nome maldito do Conde. Mas, dessa vez, Herzog, por alguma razão, recuperou o potencial de susto que esse susto-clichê possui com a simplicidade muito prosaica da taverna e a cara muito terra-a-terra do Jonathan de Bruno Ganz.
Mas, o castelo não existe, é pura ruína. Contrariando as regras do filme comercial, não tem nada de torres ameaçadoras contra o céu, corvos voejando, raios entre nuvens de tempestade fulgurantemente clareadas. À porta, quem vai lhe receber - traindo aquela ansiedade e impaciência a que o tabelião se referiu - é o próprio Conde Drácula.
Ninguém esquecerá Kinski nesse papel, e ele pode morrer convicto de que foi o maior momento de sua estranha carreira de ator.
Os espectadores jovens, fãs de filme de terror, rejeitam esse vampiro. Pudera: ele é todo negro, todo funerário, e não sugere senão morte, desolação, tristeza. É um rato, lá estão seus dentinhos, suas orelhas pontudas, suas garras expressivas. Ouve-se lobos, corujas, aves de rapina, naquela escuridão, e o rosto, como máscara kabuki em trevas, diz: "Ouça: os filhos da noite fazem a sua música!" E lança olhares invejosos para Jonathan, que come, porque, afinal, esse é um ser humano mortal, pode comer, pode conhecer sabores que ele não conhece. Desprezível, Jonathan é: Nosferatu lhe diz que ele tem uma mentalidade de camponês, não sabendo o que vai na alma de um caçador...Chama-o de bruto, em suma. Mas ele é dono dessa coisa preciosa: a humanidade.
Usará o homem, vampirizado, para chegar a Lucy, a mulher, que está num medalhão, que tem "um belo pescoço" (o resto, muito belo, não é citado). A sua natureza é bissexual, não parece devotar uma paixão exclusiva por Lucy, como por vezes certos Dráculas muito romantizados e forçosamente heterossexuais parecem ter. Ele se sente atraído por Jonathan também, esta é a verdade, e, quando vai em sua direção, não se está longe de pensar que Jonathan é um pobre homem assustado com algum homossexual que o ataca com uma avidez louca, de que só pode recuar: seu apetite é panssexual, é um apetite desolador por qualquer forma de vida que não seja a sua. Ele quer ser esses dois, carnes não amaldiçoadas e solitárias como a sua, ele quer se evadir, desesperadamente, de sua pele, de sua maldição secular.
A escuridão abocanha Jonathan. Mas tem algo de uterino também. Ele não sabe, mas, de algum modo, está preso a seu próprio desejo, a seu delírio, de uma maneira que os ciganos da aldeia já haviam insinuado. O castelo, tal como o cigano disse, é uma espécie de construção mental, delirante, do desejo de cada um que o visita. Para ilustrar isso, veja-se que importância Herzog dá, a uma certa altura, a filmar um garoto cigano que toca um violino guinchado numa das reentrâncias do labirinto que o castelo se revela para o aturdido Jonathan, que não encontra meio de fuga. O menino, na certa, é um cigano que lá se perdeu, alma penada escravizada a seu instrumento. Ficamos presos por aquilo a que nos entregamos de um modo bem mais trágico que as fantasias de sedução do cinema comercial costumam insinuar.
Teremos, então, realizada a estratégia de Nosferatu, no que foi auxiliado pelo tabelião, seu discípulo: prendeu Jonathan no castelo e irá para a cidade, de navio, chegando antes do corretor, que é forçado a cavalgar, para salvar a mulher. Quando Jonathan chega à cidade (e a entrada numa carruagem é um prodígio de fotografia, com o reflexo desta nos canais, evocando pinturas impressionistas), já está louco, perdido para a sanidade burguesa, e Nosferatu já tomou conta dos cidadãos, com seus ratos pestilentos.
O luto infinito
Nunca veremos esse vampiro feliz, exultante, todo arrogante , como outros costumam ser. Esse Nosferatu de Kinski, por quê destoa tanto dos vampiros glamourosos? Porque é, acima de tudo, uma idéia - uma idéia de luto, de solidão, de tristeza que atravessa séculos. Como poderia ser satisfeito um sujeito que precisa carregar seu caixão com punhados da terra natal, que não pode ver a luz do sol, que tem ratos como companhia, mora em cemitérios e só consome sangue humano à custa de horror? O que ele tem de indestrutível? Só a sua duração, que é na verdade uma condenação a uma eternidade de tédio e malogro. Ave enlutada, negro dentro do negro, é uma criatura de pesadelo que atravessa a noite, naquela roupa que parece uma mortalha amarfanhada. Por vezes, é até mesmo desajeitado - vê-lo carregando seu caixão de cá para lá dá a impressão de que vemos um pobre-diabo a se agitar, não querendo se livrar de algum embornal que traga às costas.
Maravilhoso é quando ele consegue se aproximar de Lucy e lhe pedir amor e ela o rejeita, dizendo que amará Jonathan e a ninguém mais. Rejeitado, esse Nosferatu não se impõe, violento, prepotente, senhor de si - ao contrário, o gemido de frustração que lança é de um desespero nunca visto. E é assustador menos pelo medo que nos causa que pela certeza de que nos dá de que é um monstro que sofre de maneira indizível (de onde Kinski arrancou aquele som?).
O Drácula sedutor do cinema comercial é um sonho de compensação infantil, como quase todo monstro - pode ser horrível, mas tem o charme da imortalidade, possui belas mulheres (cravando-lhe os dentes, bem entendido), repele os inimigos, voa, vira um morcego perigoso e onisciente, e é dono de uma petulância sem igual. O Nosferatu de Herzog mal se suporta - quando o vemos sendo adulado viscosamente por seu discípulo, o tal tabelião, notamos que é com desprezo infinito que ele trata o sujeitinho rastejante - apenas ordena que ele siga para uma determinada direção, levando os ratos, disseminando a peste. Ele cumpre sua maldição sem ilusão alguma sobre algum privilégio que ela traria. Tudo que ele quer só lhe chega como tédio e contrafação.
É preciso dizer que tudo isso é acompanhado pela música do Popol Vuh e também por trechos de "O ouro do Reno", de Wagner.. Quando a onda vocal, com o langor mórbido típico de Wagner, chega-nos em cheio, ilustrando as imagens da cidade destruída pela peste, temos uma dessas experiências de cinéfilo da espécie mais rara: uma pura sensação de Beleza, de grandes idéias e correntes espirituais que se correspondem perfeitamente exibidas numa tela. Poucos filmes conseguem isso, e Herzog é particularmente feliz nesses achados - conseguiu, com "O enigma de Kaspar Hauser", colocar o célebre "Adágio" de Albinoni pairando sobre imagens de um modo que nunca esqueceremos.
Não bastassem todas as belezas que esse filme oferece generosamente, temos, lá pelo final, quando Lucy se oferece em expiação para reter Nosferatu até que ouça o mortal canto do galo (entre as coisas que serviu para Jonathan no castelo, o vampiro, ironicamente, oferecia uma mesa decorada com um galo), a experiência do que pode ser, concretamente, um vampiro engolindo o sangue de alguém. Nosferatu bebe do pescoço da belíssima Lucy, e ouvimos o glu-glu-glu terrível com que vai engolindo aquilo, como um bebê se entupindo de leite materno. É terrível, lógico e arrebatador.
Também o caçador de vampiros arqui-consagrado, Van Helsing, é maltratado em seu clichê por Herzog nessa produção - aparece como um sujeito burocrata meio pasmo que vai enfiar estacas no vampiro e, cumprida a sua tarefa como alguém que, convocado para matar insetos, o faz com competência medíocre, é preso! Não se pode matar alguém na cidade, mesmo um monstro. Mas, tampouco há cadeia onde se possa ficar. A cidade está acabando, todos morrem, o caos e o luto se instalaram por toda parte. Os que entram na casa de Jonathan e Lucy para prender Van Helsing são apenas uns meros funcionários aparvalhados, devendo cumprir leis que já nem fazem mais sentido.
O final é mais que lógico, irônico, extremamente feliz. Nenhum cineasta comercial o teria feito, mas Herzog coroa o seu filme com aquela cena e aquelas palavras. Sim, a vida passará, agora sim, a ser interessante. E o galope continuará. Noite adentro, para o fundo do fundo, ao som de Popol Vuh.
Sobre o Autor

Chico Lopes: Chico Lopes é autor de dois livros de contos, "Nó de sombras" (2000) e "Dobras da noite" (2004) publicados pelo IMS/SP. Participou de antologias como "Cenas da favela" (Geração Editorial/Ediouro, 2007) e teve contos publicados em revistas como a "Cult" e "Pesquisa". Também é tradutor de sucessos como "Maligna" (Gregory Maguire) e "Morto até o anoitecer" (Charlaine Harris) e possui vários livros inéditos de contos, novelas, poesia e ensaios.
Francisco Carlos Lopes
Rua Guido Borim Filho, 450
CEP 37706 062 - Poços de Caldas - MG
Email: franlopes54@terra.com.br





